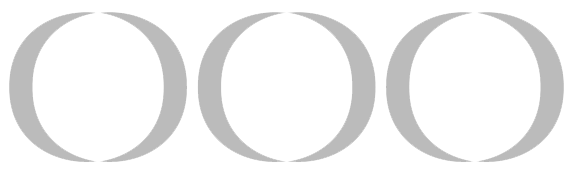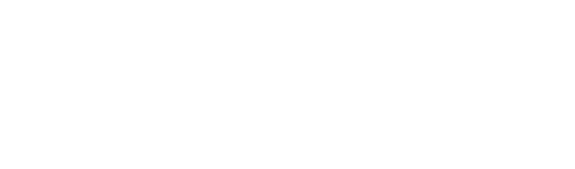Parte III: Um pé dentro, um pé fora | Crítica de Medida Provisória (2022), de Lázaro Ramos
por Lorenna Rocha e Juliano Gomes | Tue May 24 2022 16:43:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Juliano Gomes: Seria interessante pensarmos o longa do Lázaro Ramos em relação ao que se convém chamar de “cinema negro” no Brasil hoje e também ao cinema brasileiro - ainda mais que a ideia de Brasil é tão cara ao filme. Sinto que em 2022, dentro do campo do cinema que é dirigido por pessoas negras, já podemos fazer distinções. E não esqueçamos que estamos sob Bolsonaro, vivendo a destruição deliberada dos mecanismos de fomento estatais, e principalmente, fortalecimentos dos players internacionais e das grandes produtoras. Assim, meu palpite geral é que o Medida Provisória é o maior exemplo de algo que vai se consolidar nesse momento histórico: o cinema antirracista de mercado. A junção entre aparência política e “bom produto” parece formar esse cinema que aparece aí. M-8 é também importante nisso. Jefferson De foi diretor contratado pra um projeto que já existia, de uma grande produtora aqui do Rio. Hoje nós temos Temporada (André Novais Oliveira, 2018), Fantasmas (André Novais Oliveira, 2010), Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2019), República (Grace Passô e Ricardo Alves Jr., 2019), Morte Branca do Feiticeiro Negro (Rodrigo Ribeiro, 2020), No coração do Mundo (Maurílio Martins e Gabriel Martins, 2019), muitos outros filmes interessantes e o que isso quer dizer? Nada acontece no vácuo. Nós temos um conjunto de trabalhos que não são produtos de mercado, que têm grande relevância cultural e artística. Porém, minha questão prática é: por quê o crescimento do campo - que também é econômico - não favorece diretamente estas artistas que já tem um caminho e já provaram ou indicaram a força de sua poética? A maioria dos diretores do Dogma Feijoada e do Manifesto do Recife estão vivos. E aí? Existe uma disputa que nunca se torna visível. Tenho interesse em ver o André Novais com um filme com mais estrutura, com apoio da Globoplay. Como seria? O Gabriel Martins, acho que já já estará indo neste caminho e penso que dará muito certo, para ambos os lados. Mas, por exemplo, a Rosza Filmes está pensando “cinema popular brasileiro” em suas produções há dez anos. E de certa forma, o Medida… me dá a impressão de que é um filme que existe como se não houvesse, antes dele, uma obra como Ilha, sabe? Entende? Parecem vindos de países diferentes. Mas eu acho que esses “países” poderiam se ajudar mutuamente. Não acha?
Lorenna Rocha: Você combinou um conjunto de filmes acima que possuem considerável visibilidade nos circuitos independentes de cinema no país. Acho que esses títulos - e as pessoas que os assinam - têm proposições estéticas bem distintas, muitas vezes não convencionais, que, de alguma forma, oferecem uma ideia que não está em pura aderência ao modo como o mundo contemporâneo caminha. Existe um traço de contravenção entre eles. Acho que um dos motivos para esse crescimento econômico não acontecer em concomitância a criações artísticas mais desobedientes, borradas e opacas, é a aposta em produções como Medida Provisória. Acho que a obra do Lázaro Ramos é o modelo master desses filmes que só querem aparecer ou performar um tipo de “atitude política desejante”, pintando a tela com as cores que a audiência “precisa ver” ou com “pautas urgentes”. Normal, afinal, isso é uma demanda histórica. Mas num sistema em que tudo se captura e tudo é vendido, não seria importante desconfiar dessa coreografia hiper marcada? Essa adesão me parece estar muito relacionada à noção de “presentismo”, sobretudo nos filmes do cinema negro, né? Por duas sensações: a dificuldade de localizar nossas continuidades, de nos compreendermos parte de processos e de rastros históricos; e a projeção de nossa “genialidade”, “excepcionalidade”, que faz parecer que qualquer arte negra é uma grande “inventada de roda”. Então, o abismo entre Ilha e Medida Provisória é justificável por essas duas coisas. E tem a ver com a própria sócio-geografia do país, circulação de renda, etc. Pensar nessa questão dos processos históricos é uma coisa muito importante. É tipo voltar para Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1974), sabe? Que tipo de narrativa historiográfica podemos reelaborar quando consideramos que ele não é necessariamente fruto da genialidade de um diretor, mas que possui uma relação (de continuidades e descontinuidades) com o cinema brasileiro e o cinema experimental? Existe um desenho tão mais complexo nisso de fazer filme no Brasil, que justifica a coexistência de Ilha e Medida Provisória no mesmo espaço-tempo, assim como a formação de um abismo entre ambos.
 Frame do longa-metragem Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2019)
Juliano: O que você quer dizer com “dificuldade de localizar nossas continuidades”? Dá um exemplo.
Lorenna: Ah, acho que a gente tem dificuldade de perceber, localizar, visualizar mesmo as produções cinematográficas negras do presente e do passado, sabe? Estamos hiper contaminadas pelo “presentismo”, enquanto ideia que entra na mente mesmo e é replicada em várias instâncias das nossas vidas, mas, existe um trabalho enorme a fazer de mapeamento, de reconhecimento histórico das colaborações, construções e reformulações negras no cinema brasileiro. Quando a gente reforça essa ideia de apartar o cinema negro do cinema brasileiro, ou de criar algum tipo de linha temporal que rompe com qualquer relação entre as especificidades históricas, parece mesmo que tudo é novo. Entende?
Juliano: Entendi. Mas fiquei com vontade de fazer outra pergunta: esse “nós” que você fala, seriam nós pesquisadores negros? Queria entender porque sinto que, no que desenhei no começo, é uma espécie de encruzilhada de contextos também. Não tenho certeza se, por exemplo, Lázaro conhece bem os filmes do André Novais. Torço pra que sim, entende? O que quero dizer: esse “nós”, eventualmente, é formado por várias diferenças. E, como estamos falando de raça, a tensão entre o geral e o particular é inerentemente constante…
Lorenna: Sim, acho que estou falando de nós que estamos fazendo pesquisa… Quandoestava me referindo à historicização das coisas, é porque acredito que essa seja uma ferramenta importante para não cairmos (ou desconfiarmos de!) nesse “cinema antirracista de mercado” que você mencionou. Que se manifesta, em menor ou maior grau, no cinema independente feito por pessoas negras. E que tem sido muito o bem apreendido, enquanto linguagem, por pessoas brancas, como falei anteriormente sobre o Para Onde Voam As Feiticeiras (Carla Caffé, Beto Amaral, Eliane Caffé, 2020). Ok, acho que posso estar sendo meio binária e generalizante na minha leitura, afinal, não acho que seja tão preto no branco assim, mas você entende o que eu estou falando? Ao mesmo tempo que a produção cresce, existe um trabalho de investigação, de elaboração acerca dos pensamentos estéticos, de ação pedagógica, a serem realizados de forma simultânea. Enquanto aos filmes, pelo menos no meu ponto de vista, eles não deveriam se impregnar dessa lógica de consumo, né? Isso é ruim, porque, no limite, o que tá sendo consumido são nossos corpos e ideias…
Juliano: Sinto que o problema é entregar tudo a isso. Cinema é negociação. Aqui não estamos defendendo o esquadrão da “afropureza”. O problema é que esse cinema negro “mais vendido” (pra usar a expressão da Jota Mombaça que tu trouxe na parte anterior), ele vende as ideias muito barato, ele vende tudo. Acho possível negociar com os players e, ao mesmo tempo, manter certas ideias, certas pesquisas. Acho, por exemplo, que M-8 tem ideias. Tem coisas ali que não se esgotam na primeira camada, acho que já citei algumas no texto anterior. Porém, seria interessante que o Jefferson conversasse com a Filmes de Plástico, sabe? Uma coisa que noto, relacionada a tudo isso, é que a força coletiva do antirracismo que vivemos hoje, sua intensidade, escoa pouco para a pesquisa histórica. Acho que já falei isso em outra ocasião: cadê as monografias, as pesquisas primárias, sobre o Afrânio Vital (que até tem um livro recente, do Carlos Ormond, mas quem leu? Quem se interessa?), Ari Cândido, Cajado Filho ou Odilon Lopez? O Agenor Alves tá vivo. Vi o primeiro filme dele outro dia, chamado Tráfico de Fêmeas (1979). É a Boca do Lixo filtrando o Blaxploitation. O que quero dizer: é um filme totalmente mediado por questões comerciais. Qual a diferença pra agora? Diria que a principal é essa má consciência de classe média, que tem muita dificuldade de lidar com a matéria dos filmes, com os processos sensoriais - que são naturalmente eróticos, no sentido amplo. Essa postura atual de consciência política só sabe ver palavras e representações, ela é totalmente cartesiana em sua cognição. Este é o limite pra mim de um filme como Negrum3 (Diogo Paulino, 2019). Ele faz parte de um cinema paulista muito mediado por uma carne que é, afinal, publicitária, que pensa mensagem acima de tudo. O filme inicia super interessante, até que começam os depoimentos biográficos e as frases militantes com sotaque de Twitter, e toda matéria sensorial do filme se torna escrava dos enunciados pré prontos. Pra fazer um contraste: todos os filmes do André Novais são sobre gente que não fala, gente que sente uma coisa, mas fala outra. Temporada é inteiro sobre isso, sobre a impossibilidade de dissipar uma energia afetiva interior. São esses dois países que acho que estão em choque. E, ao mercado, interessa muito que o antirracismo publicitário vença essa batalha. Por quê? Porque é controlável, vendável, instagramável. República é difícil de instagramar, né? O filme é a tensão, o país é tensão. É difícil transformar o filme num manifesto. Manifesto de quê? Vaga Carne resiste a ser um tuíte, não acha?
Frame do longa-metragem Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2019)
Juliano: O que você quer dizer com “dificuldade de localizar nossas continuidades”? Dá um exemplo.
Lorenna: Ah, acho que a gente tem dificuldade de perceber, localizar, visualizar mesmo as produções cinematográficas negras do presente e do passado, sabe? Estamos hiper contaminadas pelo “presentismo”, enquanto ideia que entra na mente mesmo e é replicada em várias instâncias das nossas vidas, mas, existe um trabalho enorme a fazer de mapeamento, de reconhecimento histórico das colaborações, construções e reformulações negras no cinema brasileiro. Quando a gente reforça essa ideia de apartar o cinema negro do cinema brasileiro, ou de criar algum tipo de linha temporal que rompe com qualquer relação entre as especificidades históricas, parece mesmo que tudo é novo. Entende?
Juliano: Entendi. Mas fiquei com vontade de fazer outra pergunta: esse “nós” que você fala, seriam nós pesquisadores negros? Queria entender porque sinto que, no que desenhei no começo, é uma espécie de encruzilhada de contextos também. Não tenho certeza se, por exemplo, Lázaro conhece bem os filmes do André Novais. Torço pra que sim, entende? O que quero dizer: esse “nós”, eventualmente, é formado por várias diferenças. E, como estamos falando de raça, a tensão entre o geral e o particular é inerentemente constante…
Lorenna: Sim, acho que estou falando de nós que estamos fazendo pesquisa… Quandoestava me referindo à historicização das coisas, é porque acredito que essa seja uma ferramenta importante para não cairmos (ou desconfiarmos de!) nesse “cinema antirracista de mercado” que você mencionou. Que se manifesta, em menor ou maior grau, no cinema independente feito por pessoas negras. E que tem sido muito o bem apreendido, enquanto linguagem, por pessoas brancas, como falei anteriormente sobre o Para Onde Voam As Feiticeiras (Carla Caffé, Beto Amaral, Eliane Caffé, 2020). Ok, acho que posso estar sendo meio binária e generalizante na minha leitura, afinal, não acho que seja tão preto no branco assim, mas você entende o que eu estou falando? Ao mesmo tempo que a produção cresce, existe um trabalho de investigação, de elaboração acerca dos pensamentos estéticos, de ação pedagógica, a serem realizados de forma simultânea. Enquanto aos filmes, pelo menos no meu ponto de vista, eles não deveriam se impregnar dessa lógica de consumo, né? Isso é ruim, porque, no limite, o que tá sendo consumido são nossos corpos e ideias…
Juliano: Sinto que o problema é entregar tudo a isso. Cinema é negociação. Aqui não estamos defendendo o esquadrão da “afropureza”. O problema é que esse cinema negro “mais vendido” (pra usar a expressão da Jota Mombaça que tu trouxe na parte anterior), ele vende as ideias muito barato, ele vende tudo. Acho possível negociar com os players e, ao mesmo tempo, manter certas ideias, certas pesquisas. Acho, por exemplo, que M-8 tem ideias. Tem coisas ali que não se esgotam na primeira camada, acho que já citei algumas no texto anterior. Porém, seria interessante que o Jefferson conversasse com a Filmes de Plástico, sabe? Uma coisa que noto, relacionada a tudo isso, é que a força coletiva do antirracismo que vivemos hoje, sua intensidade, escoa pouco para a pesquisa histórica. Acho que já falei isso em outra ocasião: cadê as monografias, as pesquisas primárias, sobre o Afrânio Vital (que até tem um livro recente, do Carlos Ormond, mas quem leu? Quem se interessa?), Ari Cândido, Cajado Filho ou Odilon Lopez? O Agenor Alves tá vivo. Vi o primeiro filme dele outro dia, chamado Tráfico de Fêmeas (1979). É a Boca do Lixo filtrando o Blaxploitation. O que quero dizer: é um filme totalmente mediado por questões comerciais. Qual a diferença pra agora? Diria que a principal é essa má consciência de classe média, que tem muita dificuldade de lidar com a matéria dos filmes, com os processos sensoriais - que são naturalmente eróticos, no sentido amplo. Essa postura atual de consciência política só sabe ver palavras e representações, ela é totalmente cartesiana em sua cognição. Este é o limite pra mim de um filme como Negrum3 (Diogo Paulino, 2019). Ele faz parte de um cinema paulista muito mediado por uma carne que é, afinal, publicitária, que pensa mensagem acima de tudo. O filme inicia super interessante, até que começam os depoimentos biográficos e as frases militantes com sotaque de Twitter, e toda matéria sensorial do filme se torna escrava dos enunciados pré prontos. Pra fazer um contraste: todos os filmes do André Novais são sobre gente que não fala, gente que sente uma coisa, mas fala outra. Temporada é inteiro sobre isso, sobre a impossibilidade de dissipar uma energia afetiva interior. São esses dois países que acho que estão em choque. E, ao mercado, interessa muito que o antirracismo publicitário vença essa batalha. Por quê? Porque é controlável, vendável, instagramável. República é difícil de instagramar, né? O filme é a tensão, o país é tensão. É difícil transformar o filme num manifesto. Manifesto de quê? Vaga Carne resiste a ser um tuíte, não acha?
 Frame do curta-metragem República (Grace Passô, 2020)
Lorenna: Antes de continuar aqui, o que você está querendo dizer com “naturalmente eróticos”?
Juliano: Então, tô fazendo uma oposição entre uma leitura cartesiana que só entende discursos e enunciados, e uma outra análise, mais material, que vê enquadramentos, cores, sentidos, relações plásticas, relações cinéticas, históricas, que busca estar atenta a esta face não verbal dos filmes e das coisas. Sinto que nosso campo hoje é fóbico do erótico, de maneira geral. Desde os assuntos relacionados ao desejo, à sexualidade, tudo em nome dessa suposta recusa à esterotipia que, como dizem, “hiperssexualiza”. Então, no modelo vigente, um ambiente “politizado” seria um ambiente sem erotismo, em nenhum grau. Onde só percebemos o que é da ordem da linguagem e da consciência. Isso é um problema amplo, que dá pra gente chegar até na diferença entre o Partido Comunista e o Lula nos anos 1970, como me dizia o Francis Vogner outro dia. Isso era uma questão do Centro Popular de Cultura (onde Zózimo já esteve, Waldir Onofre teve seu primeiro papel de destaque no longa do CPC, Cinco Vezes Favela, dirigido por Marcos Farias, Miguel Borges, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, em 1962. As políticas do erotismo são um problema pra esquerda faz muito tempo. E a extrema direita aprendeu a jogar com isso agora. Os neorreacionários não tem conteúdo nenhum, são só performance, e nós aqui apostando no conteúdo, na “mensagem clara”. Isso é um suicídio político e estético. Ouvi dezenas de vezes, nos últimos seis anos, dizerem que o problema de um filme é que ele não foi “claro o suficiente” em relação ao que trata. Retomando algo que disse anteriormente: é necessário amar o “perigoso”, o “perigo”, se tratando de arte e cultura. Nós já fazemos isso, mas é muito comum essa postura de não ligar “lé com cré”, pra manter nossos circuitos individuais, sabe? Nós saímos do debate de um festival onde dizemos: “este filme não demonstrou consciência suficiente sobre o problema que aborda”. E uma hora depois estamos descendo a bunda até o chão, ouvindo a belíssima canção da A Travestis, Murro na Costela, ou Mc Carol Bandida entoar que “meu namorado é mó otário” ou que “tô usando crack”, entende? Tô falando disso. Precisamos dessa ética no cinema, temos que parar com essa postura de “pedra bêba” - como tu me ensinou outro dia. A arte negra do passado sempre teve muito espaço pra ambiguidade, malícia, brincadeira, pra jogar com o perigo mesmo. O campo do simbólico, dos discursos artísticos, tem a função de tensionar. Só que a ideologia que estamos tentando descrever aqui, de amansar pra vender melhor, quer empacotar, fazer mercadorias de sucesso pro “capitalismo negro”, se baseando em moral de autoajuda. Então, esse problema do erotismo tem a ver, antes de tudo, com políticas de expressividade do não dito, do ambíguo. Que são métodos negros antiquíssimos de opacidade e termodinâmica, acho.
Lorenna: Parece que há uma similitude aqui entre o político e o asséptico, né? No sentido de higienizado mesmo. E, dando a volta ao que estávamos falando, é difícil encarar que os filmes criados por realizadores negros no passado são tudo, menos “puros”. Mas essas são perguntas que não sei muito bem responder, porque existe um rastro entre as imagens, né? A hiperssexualização que você menciona não é uma abstração, ela existe, como foi discutido, por exemplo, em Xica da Silva (Cacá Diegues, 1976). Ela historicamente está bem localizada, há investimentos imagéticos muito identificáveis aqui. Ao mesmo tempo, acho que é possível criar curto-circuito dentro desses regimes. Inclusive, a pesquisa de mestrado da Mariana Queen Nwabasilli ensaia um pouco sobre isso. Agora, papo reto: se acreditamos que dentro do mercado dá para criar fendas nas hegemonias, métricas e algoritmos, por quê não podemos acreditar que existiram (e podem existir) contravenções dentro desses conjuntos de filmes e representações “impuras”?
Juliano: É justo isso. A Amazon não suja nossa reputação, não pega mal postar. Mesmo sendo a empresa que mais explora trabalhadores no mundo. Porém, num filme brasileiro, a ideia de “mulata” no longa do Antônio Pitanga é algo que “não podemos suportar”, né? Tem uma hierarquia aí na forma desta pureza. Há um problema entre o simbólico/discursivo e o material/concreto. Acho que você acertou na mosca…
Lorenna: Só consigo pensar no longa do Odillon Lopez, Um é pouco, dois é bom (1970). Estava reassistindo a segunda parte esses dias, chamada Vida nova por acaso. Uma das defesas para não jogá-lo para dentro da roda das genealogias do cinema negro é que ele tem em sua estrutura narrativa um conflito acerca das relações afetivo-sexuais interraciais, entre um homem negro e uma mulher branca, que foi matéria de muitos filmes ao decorrer da história do cinema brasileiro, como Compasso de Espera (Antunes Filho, 1973). Então, automaticamente, pensa-se o seguinte: “esse filme não rompeu com os regimes representacionais em relação à negrura, não teve avanços estéticos”. Neste mesmo episódio, Vida Nova Por Acaso, Magrão (Francisco Silva) e Crioulo, o próprio Odillon Lopez, são dois ladrões recém saídos da prisão. “Mais um estereótipo para o negro…” “Dirigido por um diretor negro…” Sem “novidades”, né? Mas, é justamente a partir desses personagens tão convencionais que as leituras críticas acerca do homem negro (pobre!), de sua imagem e da projeção branca sobre seu corpo acontecem. Crioulo combina com seu parceiro de furto, Magrão, para que ele distraia o dono da mercearia na tentativa de conseguirem pegar alguma comida para a dupla. Magrão alerta o comerciante branco para que “tenha cuidado com esse neguinho”, jogando a imagem do "ladrão" para Crioulo, enquanto ele mesmo faz o furto. A cena ganha um deslocamento, mesmo operando de dentro da projeção da brancura em relação ao signo negro. A imagem que se espera cumpre sua função, “o homem negro que rouba”, ainda que não tenha sido feito com suas próprias mãos, mas, quando manipulada a imagem de "ladrão" pelo próprio homem negro, em sua sagacidade, o jogo representacional - e o sintoma do racismo - se desestabiliza. Um outro exemplo disso é quando Crioulo vai até uma boutique com sua namoradinha branca e passa a se vestir com roupas “da classe alta”. A mudança de som, que passa de uma música instrumental alegre para outra que emite um clima mais tenso, associada ao jogo de planos entre a imagem frontal de Crioulo, do espelho do provador e de um sapato que ele tenta calçar, mas não cabe no seu pé (este aparece em plano mais fechado), são indícios de uma não-assimilação dentro desse registro de “um homem negro que vai palmitar com sua gatinha rica e branca”. Entende? É como se ele hackeasse as figurações do racismo dentro do filme. Isso é curto-circuito, tá ligado? Acho que é melhor falarmos de curto-circuito do que “avanços estéticos”. Pensar em progresso é tão cartesiano…
Juliano: Essa imagem é excelente: esse sapato que não cabe no nosso pé. De fato, olonga do Odillon é um filme muito rico, infinito. Pena que só foi digitalizada a metade dele, pois é um filme de dois episódios. Saiu naquela caixa importantíssima de DVDs, Obras Raras – O cinema negro da década de 70, onde estavam Na Boca do Mundo (Antônio Pitanga, 1978), A Deusa Negra (Ola Balogun, 1978), As Aventuras Amorosas de um Padeiro (Waldir Onofre, 1975) e Compasso de Espera (1973), do branco Antunes Filho. Só que Um é pouco…foi o único filme que não foi editado completo, até hoje não entendo. Amigas minhas que viram o longa do Odillon na Mostra de Cinema de Ouro Preto, disseram que o outro episódio que compõe o filme trata de conflitos de classe, e os personagens são brancos. Mas, eu nunca vi um longa ser lançado pela metade… Enfim: a questão é esse sapato, da loja que a branca nos leva. Tá em jogo aqui a crença nesta roupagem. O Um é Pouco… é, de fato, um grande marco, porque ele joga de maneira muito inteligente com as situações raciais, mas ao mesmo tempo ele é mais transparente e mais opaco. É um filme que parece se fazer de bobo, sabe? Isso é muito negro, né? Esse jogo com o olhar do outro, enquanto se envia mensagens cifradas. Inclusive, do ponto de vista da linguagem, ele filtra a chanchada, o cinema moderno, é um belíssimo óvni. Acho um dado histórico incrível que esse marco do cinema negro brasileiro venha da região Sul, que seja o primeiro longa-metragem urbano do cinema do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o que estamos falando aqui é esse projeto de cinema negro que quer vestir as roupas de classe alta, porém acreditando ser parte dela. Posso sintetizar assim? Isso me lembra o casal de Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty,1973), eles revirando as roupas daqueles brancos, vestidos com a bandeira dos Estados Unidos. Se é pra usar as roupas dessa loja, tem que ter alguma dimensão paródica, num acha?
Lorenna: Acho que tem que ter é uma expressão muito forte. Diria que a questão é desconfiar um pouco dessa aderência aos códigos, aos discursos, à norma, no final das contas. Pode não ser também. Normal. Mas, essa sua reflexão me faz pensar que, historicamente, é dentro desse registro de trair a representação, improvisar, fazer vibrar um contra-percurso em relação ao que seria destino (das personagens, narrativas, estéticas), que as performances e criações negras muitas vezes estiveram. Pessoas negras já são aquilo que excede dentro da norma do mundo, né? Então, um filme, como o do Odilon, me instiga a mergulhar nessas imagens controversas. Mas, é controversa em que sentido? Por nos posicionarmos contra os “estereótipos” e “arquétipos” que se repetem ao longo da presença negra nas artes? Por falta de “subjetividade” e pela demanda histórica de “nós” falarmos? Ou por não estar ornamentado por um modo de representação dentro de uma lógica higienista-classista-branca-normativa que, quase como um modelo fordista, tem contaminado nossas criações estéticas, nossas formas de nos posicionarmos diante das questões do mundo? Você falou de Touki Bouki e só consigo lembrar de como a montagem sonora faz com que o trecho da música de Josephine Baker, Paris, Paris, Paris, repita até se desgastar, produzindo uma tramoia, e cria um impacto psicológico de dentro de um circuito que seria o ideal branco, o desejo pela brancura. Retorno ao Odilon: o filme é sobre sistema carcerário! Ele começa como termina: a dupla sendo presa pela polícia. Repetição. Como Bernardo Oliveira disse no seminário da INDETERMINAÇÕES, filmes como Medida Provisória ou M-8 vão existir, o que a gente precisa é de estrutura para fazê-los, de Fundo Setorial. Não é reenquadrar os filmes num lugar onde eles devem ou não estar, mas a discussão fundamental aqui se direciona à própria concepção, função e projetos de cinema, de arte, sabe? E de política. Nessa ideia de jogar com os códigos e discursos, gosto muito de pensar em Cabeça de Nêgo (Déo Cardoso, 2020). Num sei se você lembra, mas o Francis fez uma pergunta num texto recém publicado que era assim: “o repertório cinéfilo de Cabeça de Nêgo tem a ver com Malhação ou é um crossover de Faça a Coisa Certa com filmes de high school?” Acho que esse tipo de questão é o coração dos pensamentos que rondam esse conjunto de textos, sabe?
Frame do curta-metragem República (Grace Passô, 2020)
Lorenna: Antes de continuar aqui, o que você está querendo dizer com “naturalmente eróticos”?
Juliano: Então, tô fazendo uma oposição entre uma leitura cartesiana que só entende discursos e enunciados, e uma outra análise, mais material, que vê enquadramentos, cores, sentidos, relações plásticas, relações cinéticas, históricas, que busca estar atenta a esta face não verbal dos filmes e das coisas. Sinto que nosso campo hoje é fóbico do erótico, de maneira geral. Desde os assuntos relacionados ao desejo, à sexualidade, tudo em nome dessa suposta recusa à esterotipia que, como dizem, “hiperssexualiza”. Então, no modelo vigente, um ambiente “politizado” seria um ambiente sem erotismo, em nenhum grau. Onde só percebemos o que é da ordem da linguagem e da consciência. Isso é um problema amplo, que dá pra gente chegar até na diferença entre o Partido Comunista e o Lula nos anos 1970, como me dizia o Francis Vogner outro dia. Isso era uma questão do Centro Popular de Cultura (onde Zózimo já esteve, Waldir Onofre teve seu primeiro papel de destaque no longa do CPC, Cinco Vezes Favela, dirigido por Marcos Farias, Miguel Borges, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, em 1962. As políticas do erotismo são um problema pra esquerda faz muito tempo. E a extrema direita aprendeu a jogar com isso agora. Os neorreacionários não tem conteúdo nenhum, são só performance, e nós aqui apostando no conteúdo, na “mensagem clara”. Isso é um suicídio político e estético. Ouvi dezenas de vezes, nos últimos seis anos, dizerem que o problema de um filme é que ele não foi “claro o suficiente” em relação ao que trata. Retomando algo que disse anteriormente: é necessário amar o “perigoso”, o “perigo”, se tratando de arte e cultura. Nós já fazemos isso, mas é muito comum essa postura de não ligar “lé com cré”, pra manter nossos circuitos individuais, sabe? Nós saímos do debate de um festival onde dizemos: “este filme não demonstrou consciência suficiente sobre o problema que aborda”. E uma hora depois estamos descendo a bunda até o chão, ouvindo a belíssima canção da A Travestis, Murro na Costela, ou Mc Carol Bandida entoar que “meu namorado é mó otário” ou que “tô usando crack”, entende? Tô falando disso. Precisamos dessa ética no cinema, temos que parar com essa postura de “pedra bêba” - como tu me ensinou outro dia. A arte negra do passado sempre teve muito espaço pra ambiguidade, malícia, brincadeira, pra jogar com o perigo mesmo. O campo do simbólico, dos discursos artísticos, tem a função de tensionar. Só que a ideologia que estamos tentando descrever aqui, de amansar pra vender melhor, quer empacotar, fazer mercadorias de sucesso pro “capitalismo negro”, se baseando em moral de autoajuda. Então, esse problema do erotismo tem a ver, antes de tudo, com políticas de expressividade do não dito, do ambíguo. Que são métodos negros antiquíssimos de opacidade e termodinâmica, acho.
Lorenna: Parece que há uma similitude aqui entre o político e o asséptico, né? No sentido de higienizado mesmo. E, dando a volta ao que estávamos falando, é difícil encarar que os filmes criados por realizadores negros no passado são tudo, menos “puros”. Mas essas são perguntas que não sei muito bem responder, porque existe um rastro entre as imagens, né? A hiperssexualização que você menciona não é uma abstração, ela existe, como foi discutido, por exemplo, em Xica da Silva (Cacá Diegues, 1976). Ela historicamente está bem localizada, há investimentos imagéticos muito identificáveis aqui. Ao mesmo tempo, acho que é possível criar curto-circuito dentro desses regimes. Inclusive, a pesquisa de mestrado da Mariana Queen Nwabasilli ensaia um pouco sobre isso. Agora, papo reto: se acreditamos que dentro do mercado dá para criar fendas nas hegemonias, métricas e algoritmos, por quê não podemos acreditar que existiram (e podem existir) contravenções dentro desses conjuntos de filmes e representações “impuras”?
Juliano: É justo isso. A Amazon não suja nossa reputação, não pega mal postar. Mesmo sendo a empresa que mais explora trabalhadores no mundo. Porém, num filme brasileiro, a ideia de “mulata” no longa do Antônio Pitanga é algo que “não podemos suportar”, né? Tem uma hierarquia aí na forma desta pureza. Há um problema entre o simbólico/discursivo e o material/concreto. Acho que você acertou na mosca…
Lorenna: Só consigo pensar no longa do Odillon Lopez, Um é pouco, dois é bom (1970). Estava reassistindo a segunda parte esses dias, chamada Vida nova por acaso. Uma das defesas para não jogá-lo para dentro da roda das genealogias do cinema negro é que ele tem em sua estrutura narrativa um conflito acerca das relações afetivo-sexuais interraciais, entre um homem negro e uma mulher branca, que foi matéria de muitos filmes ao decorrer da história do cinema brasileiro, como Compasso de Espera (Antunes Filho, 1973). Então, automaticamente, pensa-se o seguinte: “esse filme não rompeu com os regimes representacionais em relação à negrura, não teve avanços estéticos”. Neste mesmo episódio, Vida Nova Por Acaso, Magrão (Francisco Silva) e Crioulo, o próprio Odillon Lopez, são dois ladrões recém saídos da prisão. “Mais um estereótipo para o negro…” “Dirigido por um diretor negro…” Sem “novidades”, né? Mas, é justamente a partir desses personagens tão convencionais que as leituras críticas acerca do homem negro (pobre!), de sua imagem e da projeção branca sobre seu corpo acontecem. Crioulo combina com seu parceiro de furto, Magrão, para que ele distraia o dono da mercearia na tentativa de conseguirem pegar alguma comida para a dupla. Magrão alerta o comerciante branco para que “tenha cuidado com esse neguinho”, jogando a imagem do "ladrão" para Crioulo, enquanto ele mesmo faz o furto. A cena ganha um deslocamento, mesmo operando de dentro da projeção da brancura em relação ao signo negro. A imagem que se espera cumpre sua função, “o homem negro que rouba”, ainda que não tenha sido feito com suas próprias mãos, mas, quando manipulada a imagem de "ladrão" pelo próprio homem negro, em sua sagacidade, o jogo representacional - e o sintoma do racismo - se desestabiliza. Um outro exemplo disso é quando Crioulo vai até uma boutique com sua namoradinha branca e passa a se vestir com roupas “da classe alta”. A mudança de som, que passa de uma música instrumental alegre para outra que emite um clima mais tenso, associada ao jogo de planos entre a imagem frontal de Crioulo, do espelho do provador e de um sapato que ele tenta calçar, mas não cabe no seu pé (este aparece em plano mais fechado), são indícios de uma não-assimilação dentro desse registro de “um homem negro que vai palmitar com sua gatinha rica e branca”. Entende? É como se ele hackeasse as figurações do racismo dentro do filme. Isso é curto-circuito, tá ligado? Acho que é melhor falarmos de curto-circuito do que “avanços estéticos”. Pensar em progresso é tão cartesiano…
Juliano: Essa imagem é excelente: esse sapato que não cabe no nosso pé. De fato, olonga do Odillon é um filme muito rico, infinito. Pena que só foi digitalizada a metade dele, pois é um filme de dois episódios. Saiu naquela caixa importantíssima de DVDs, Obras Raras – O cinema negro da década de 70, onde estavam Na Boca do Mundo (Antônio Pitanga, 1978), A Deusa Negra (Ola Balogun, 1978), As Aventuras Amorosas de um Padeiro (Waldir Onofre, 1975) e Compasso de Espera (1973), do branco Antunes Filho. Só que Um é pouco…foi o único filme que não foi editado completo, até hoje não entendo. Amigas minhas que viram o longa do Odillon na Mostra de Cinema de Ouro Preto, disseram que o outro episódio que compõe o filme trata de conflitos de classe, e os personagens são brancos. Mas, eu nunca vi um longa ser lançado pela metade… Enfim: a questão é esse sapato, da loja que a branca nos leva. Tá em jogo aqui a crença nesta roupagem. O Um é Pouco… é, de fato, um grande marco, porque ele joga de maneira muito inteligente com as situações raciais, mas ao mesmo tempo ele é mais transparente e mais opaco. É um filme que parece se fazer de bobo, sabe? Isso é muito negro, né? Esse jogo com o olhar do outro, enquanto se envia mensagens cifradas. Inclusive, do ponto de vista da linguagem, ele filtra a chanchada, o cinema moderno, é um belíssimo óvni. Acho um dado histórico incrível que esse marco do cinema negro brasileiro venha da região Sul, que seja o primeiro longa-metragem urbano do cinema do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o que estamos falando aqui é esse projeto de cinema negro que quer vestir as roupas de classe alta, porém acreditando ser parte dela. Posso sintetizar assim? Isso me lembra o casal de Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty,1973), eles revirando as roupas daqueles brancos, vestidos com a bandeira dos Estados Unidos. Se é pra usar as roupas dessa loja, tem que ter alguma dimensão paródica, num acha?
Lorenna: Acho que tem que ter é uma expressão muito forte. Diria que a questão é desconfiar um pouco dessa aderência aos códigos, aos discursos, à norma, no final das contas. Pode não ser também. Normal. Mas, essa sua reflexão me faz pensar que, historicamente, é dentro desse registro de trair a representação, improvisar, fazer vibrar um contra-percurso em relação ao que seria destino (das personagens, narrativas, estéticas), que as performances e criações negras muitas vezes estiveram. Pessoas negras já são aquilo que excede dentro da norma do mundo, né? Então, um filme, como o do Odilon, me instiga a mergulhar nessas imagens controversas. Mas, é controversa em que sentido? Por nos posicionarmos contra os “estereótipos” e “arquétipos” que se repetem ao longo da presença negra nas artes? Por falta de “subjetividade” e pela demanda histórica de “nós” falarmos? Ou por não estar ornamentado por um modo de representação dentro de uma lógica higienista-classista-branca-normativa que, quase como um modelo fordista, tem contaminado nossas criações estéticas, nossas formas de nos posicionarmos diante das questões do mundo? Você falou de Touki Bouki e só consigo lembrar de como a montagem sonora faz com que o trecho da música de Josephine Baker, Paris, Paris, Paris, repita até se desgastar, produzindo uma tramoia, e cria um impacto psicológico de dentro de um circuito que seria o ideal branco, o desejo pela brancura. Retorno ao Odilon: o filme é sobre sistema carcerário! Ele começa como termina: a dupla sendo presa pela polícia. Repetição. Como Bernardo Oliveira disse no seminário da INDETERMINAÇÕES, filmes como Medida Provisória ou M-8 vão existir, o que a gente precisa é de estrutura para fazê-los, de Fundo Setorial. Não é reenquadrar os filmes num lugar onde eles devem ou não estar, mas a discussão fundamental aqui se direciona à própria concepção, função e projetos de cinema, de arte, sabe? E de política. Nessa ideia de jogar com os códigos e discursos, gosto muito de pensar em Cabeça de Nêgo (Déo Cardoso, 2020). Num sei se você lembra, mas o Francis fez uma pergunta num texto recém publicado que era assim: “o repertório cinéfilo de Cabeça de Nêgo tem a ver com Malhação ou é um crossover de Faça a Coisa Certa com filmes de high school?” Acho que esse tipo de questão é o coração dos pensamentos que rondam esse conjunto de textos, sabe?
 Frame do longa-metragem Cabeça de Nêgo (Déo Cardoso, 2020)
Juliano: Ótimo exemplo. Talvez o filme do Déo seja o melhor dos casos pra conversar com o Medida. Inclusive, acho que Déo foi trabalhar em alguma coisa da Globo, se não me engano. Mas é claramente um projeto de cinema narrativo, comunicativo, tem um “trajeto do herói” ali na estrutura. Entretanto, sobrevive um certo tom que não é asséptico, seja na relação com os espaços, seja nas atuações. Tem um desejo de Malhação, mas não é Malhação. Tem um desejo de Spike Lee, mas não é Faça a Coisa Certa (1989). Isso é o que o Paulo Emílio Salles Gomes falava, positivamente, e chamava de nossa “incapacidade criativa de copiar”. Essa terceira coisa que aparece quando tentamos emular uma outra. Um elemento concreto de comparação pode ser a coletividade final, nos dois filmes. No Cabeça, há um contágio histórico de algo que é muito importante, que são as mobilizações secundaristas de 2015, 2016, no Brasil. A passagem da ficção para aquelas imagens finais tem igualmente um coeficiente de diferença e de continuidade. Porque há ruído, há algo que é vivo na escolha de textura de imagem, e numa certa violência que é aquela irrupção inesperada no tecido narrativo do filme. E não podemos esquecer: é um filme cearense, tá longe do Projac. Há algo não totalmente “profissional” no filme que me parece carregar uma reserva plástica fértil pro que ele é. Entende? Não é totalmente distante do filme que os meninos, os alunos, fariam, sinto. Essa coisa de ter um pé dentro e um pé fora, sabe? Vestir só um dos sapatos que a branca do Odillon oferece, saca? Esse pé que fica de fora é importante. Sinto que o Cabeça de Nêgo, de alguma maneira, deixa um “pé de fora” e isso produz coisas na experiência do filme, essa imperfeição. A coletividade no fim do Medida… tem uma energia pacificada, não tem ruído ou vibração. Podia ser um anúncio de um produto, acho que já já vai ser. Inclusive, o edital da EBC que financiou o Cabeça de Nêgo, o Um dia com Jerusa (Viviane Ferreira, 2020) e o Marte Um (Gabriel Martins, 2022) foi descontinuado, sabia?
Lorenna: Sim… Mas queria voltar numa coisa: ruído. Tá aí uma palavra que eu acho sensacional para pensar nesses cinemas negros do passado, nas representações negras ao longo da história do cinema brasileiro, que poderia servir de inspiração (ou contravenção, né?) no hoje. É aquilo que tem, que transborda. Acho que a falta de ruído é o nosso grande problema. Parece que andamos com medo do descompasso, né? Tava conversando com Diego Araúja um dia desses. E ele compartilhou um pouco comigo o que entendia enquanto “erro”. Me chamou atenção quando Diego traçou um paralelo disso à ideia de insistência, mesmo que isso pudesse estar sempre acompanhado de um processo doloroso, quando pensamos em artistas negres. Esse negócio de “seguir um sussuro” até descobrir algo, uma “espécie de epifania do ruim”, como ele trouxe, ou seja, se permitir ao erro, parece não caber entre nós quando calçamos esses “dois sapatos” hiperdesejados. Manter a norma sem ruído é permanecer entregando o que se espera de negrura na tela, né? E, o que talvez possamos aprender com parte desses filmes que falamos até agora, é o gosto pelo ruído. O ruído como aposta. Desconforto como possibilidade. Criação de territórios mais instáveis, no final das contas, né? Porque isso também tem a ver com a dimensão material dos nossos fazeres e saberes, levantados muitas vezes dentro da descontinuidade (e isso tá relacionado ao edital que você mencionou acima). Modelo, no fundo, é só promessa.
Frame do longa-metragem Cabeça de Nêgo (Déo Cardoso, 2020)
Juliano: Ótimo exemplo. Talvez o filme do Déo seja o melhor dos casos pra conversar com o Medida. Inclusive, acho que Déo foi trabalhar em alguma coisa da Globo, se não me engano. Mas é claramente um projeto de cinema narrativo, comunicativo, tem um “trajeto do herói” ali na estrutura. Entretanto, sobrevive um certo tom que não é asséptico, seja na relação com os espaços, seja nas atuações. Tem um desejo de Malhação, mas não é Malhação. Tem um desejo de Spike Lee, mas não é Faça a Coisa Certa (1989). Isso é o que o Paulo Emílio Salles Gomes falava, positivamente, e chamava de nossa “incapacidade criativa de copiar”. Essa terceira coisa que aparece quando tentamos emular uma outra. Um elemento concreto de comparação pode ser a coletividade final, nos dois filmes. No Cabeça, há um contágio histórico de algo que é muito importante, que são as mobilizações secundaristas de 2015, 2016, no Brasil. A passagem da ficção para aquelas imagens finais tem igualmente um coeficiente de diferença e de continuidade. Porque há ruído, há algo que é vivo na escolha de textura de imagem, e numa certa violência que é aquela irrupção inesperada no tecido narrativo do filme. E não podemos esquecer: é um filme cearense, tá longe do Projac. Há algo não totalmente “profissional” no filme que me parece carregar uma reserva plástica fértil pro que ele é. Entende? Não é totalmente distante do filme que os meninos, os alunos, fariam, sinto. Essa coisa de ter um pé dentro e um pé fora, sabe? Vestir só um dos sapatos que a branca do Odillon oferece, saca? Esse pé que fica de fora é importante. Sinto que o Cabeça de Nêgo, de alguma maneira, deixa um “pé de fora” e isso produz coisas na experiência do filme, essa imperfeição. A coletividade no fim do Medida… tem uma energia pacificada, não tem ruído ou vibração. Podia ser um anúncio de um produto, acho que já já vai ser. Inclusive, o edital da EBC que financiou o Cabeça de Nêgo, o Um dia com Jerusa (Viviane Ferreira, 2020) e o Marte Um (Gabriel Martins, 2022) foi descontinuado, sabia?
Lorenna: Sim… Mas queria voltar numa coisa: ruído. Tá aí uma palavra que eu acho sensacional para pensar nesses cinemas negros do passado, nas representações negras ao longo da história do cinema brasileiro, que poderia servir de inspiração (ou contravenção, né?) no hoje. É aquilo que tem, que transborda. Acho que a falta de ruído é o nosso grande problema. Parece que andamos com medo do descompasso, né? Tava conversando com Diego Araúja um dia desses. E ele compartilhou um pouco comigo o que entendia enquanto “erro”. Me chamou atenção quando Diego traçou um paralelo disso à ideia de insistência, mesmo que isso pudesse estar sempre acompanhado de um processo doloroso, quando pensamos em artistas negres. Esse negócio de “seguir um sussuro” até descobrir algo, uma “espécie de epifania do ruim”, como ele trouxe, ou seja, se permitir ao erro, parece não caber entre nós quando calçamos esses “dois sapatos” hiperdesejados. Manter a norma sem ruído é permanecer entregando o que se espera de negrura na tela, né? E, o que talvez possamos aprender com parte desses filmes que falamos até agora, é o gosto pelo ruído. O ruído como aposta. Desconforto como possibilidade. Criação de territórios mais instáveis, no final das contas, né? Porque isso também tem a ver com a dimensão material dos nossos fazeres e saberes, levantados muitas vezes dentro da descontinuidade (e isso tá relacionado ao edital que você mencionou acima). Modelo, no fundo, é só promessa.