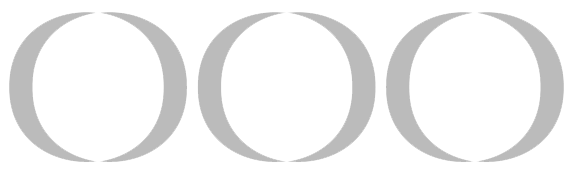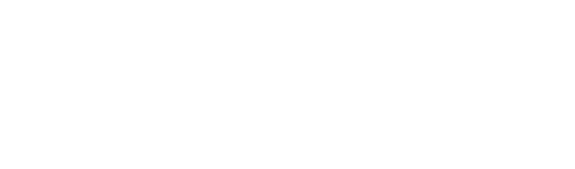Pela malícia
por Gabriel Araújo | Wed Jun 29 2022 17:39:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lembro que, durante uma entrevista para o trabalho de conclusão de curso de uma amiga, ela me fez as clássicas perguntas sobre o momento em que eu me reconheci negro e de que modo eu manifestava a minha negritude. À época, escolhi resumir esse percurso longo e complexo respondendo de duas formas: com uma observação recorrente na trajetória de homens negros de pele mais clara, que encontra no cabelo crespo armado um importante fator de afirmação; e contando um pouco sobre a minha relação com a capoeira, jogo que ocupa um lugar especial na minha vida há quatro anos.
Disse que, de algum modo, na roda, nas palmas e nas músicas, meu corpo se conectava com uma espécie de ancestralidade compartilhada. Até temo usar essa palavra hoje em dia, que quase se tornou leviana haja visto o tanto que ela é usada para defender os mais diferentes e absurdos discursos nos últimos anos. Basta dar uma olhada pelo Twitter e ver postagens valendo-se do tema para vangloriar o pavoroso “pretos no topo”, por exemplo. Mas, provavelmente, não consigo descrever a experiência de uma roda de capoeira sem usar o termo, já que toda a energia produzida ali parece, sim, remeter a diferentes histórias e temporalidades. Algo semelhante aos momentos de transes apoteóticos de uma roda de samba e de um bom baile funk, para me ater aos exemplos musicais que ninguém tem dúvidas de reconhecer enquanto manifestações pretas.
É difícil dizer. O que posso falar é que, desde o momento em que me apercebi nessa energia compartilhada, que está presente nas boas rodas (claro, existem as ruins), eu, contraditoriamente racional ou cartesiano demais, busquei (busco) formas de aproximar a capoeira e o cinema por meio das possibilidades materiais ou imaginativas de apreensão. Encontrei na crítica e na curadoria um espaço para brincar com as perspectivas dessa confluência. E encontrei a minha principal inspiração no cinema negro, brasileiro e internacional.
Todo esse esforço estabeleceu, de certa forma, um desejo. Não necessariamente de imagens que eu gostaria de ver ou de narrativas que eu acharia interessante de serem construídas, não. Embora tenha gostos e predileções que nem tento esconder, busco sempre deixar uma individualidade narcisista longe das análises a serem feitas. Mas, o desejo permanecia – e acabou influindo nos projetos que investi e invisto no campo e, principalmente, no olhar que construí para e em torno dos filmes. A vontade de um cinema que se movimentasse conforme a ginga.
*
“Capoeirista mental. Aquele que sempre se armou mentalmente para enfrentar os desafios do cotidiano com a força do intelecto, nunca do braço. Assim Antônio Luiz Sampaio, conhecido nacionalmente como Antônio Pitanga, um dos atores-mestres do cinema brasileiro, define-se a si mesmo. Sua filha, a também atriz Camila Pitanga, complementa, no documentário Pitanga (Brasil, 2017), de Beto Brant e da própria Camila: ‘Dá para vencer na defensiva: não precisa entrar com o golpe, mas com o contragolpe’.”
 Antônio Pitanga em A Grande Cidade (Cacá Diegues, 1966)
Antônio Pitanga em A Grande Cidade (Cacá Diegues, 1966)
Este é o início de um texto que escrevi em 2018, como trabalho final de uma disciplina da minha formação complementar em Cinema. À época, cursava Comunicação Social na UFMG e estava começando a tatear um caminho na área, ainda sem saber muito o que fazer. Gostava de assistir filmes, gostava de pensar sobre filmes, gostava de escrever a partir deles, mas me faltavam (e ainda faltam, crise eterna) referências que me permitissem declarar a cinefilia sem pedir muita licença – criança viada e periférica, né, que cresceu com os filmes da Disney, não de Truffaut.
Até que, na Mostra de Cinema de Tiradentes de 2018, me encontrei brevemente com Antônio Pitanga. Demos, eu e uma amiga, uma carteirada falsa e simplória para acessar o camarim onde Antônio e Camila estavam e conversamos com os dois. Talvez, a memória tenha dado mais luz e brilho a esse momento, transformando-o num idílico e definidor eureka… O fato é que, quando contei a Antônio que não havia assistido seus filmes, ele gentilmente respondeu algo como: “ainda há tempo, você é jovem”. E comentou, como lembra uma postagem que fiz no Facebook à época, que “o movimento da resistência negra é um dos caminhos fundamentais para a união em um futuro de utopia”.
Embora a ideia de utopia não cole muito mais por aqui, ainda acredito firmemente naquilo que ele disse. Um pouco do que Sueli Carneiro fala no Mano a Mano, né? Que o principal medo da casa grande seria o de uma população negra consciente e articulada. Enfim. Pois, depois daquele encontro, nos dedicamos a começar essa aventura pela sua cinematografia com, justamente, Pitanga (2017), documentário de Beto Brant e de Camila Pitanga, cuja exibição havíamos perdido em Tiradentes.
“Agora, que já te conhecíamos fora de tela, ao assistir Pitanga nos sentíamos parte de sua história. Desafiando etiquetas e sem sermos convidados, nos sentimos à vontade para, naquela sala escura, integrar as suas conversas. Rimos. Nos emocionamos. E conversamos contigo, mesmo sem você saber”, escreveu Amanda Lira, essa amiga que menciono, numa carta aberta que endereçamos a Pitanga em 2019.
Esse encontro e esse filme foram o estalo necessário para que eu engajasse, mais seriamente, numa investigação sobre o cinema brasileiro, em geral, e sobre o cinema negro brasileiro, em específico. Ou seja, tive a sorte de intensificar a minha formação cinéfila, digamos assim, justamente no momento de explosão do cinema negro brasileiro, em que proliferavam obras, mostras e iniciativas dedicadas a pensar essa história. Não esqueçamos que 2018 foi também o ano da mostra Cinema Negro: Capítulos de uma História Fragmentada, curada por Heitor Augusto no FestCurtasBH. Ainda me recordo do misto de deslumbramento e familiaridade ao ver o Cine Humberto Mauro – cinema da região central de Belo Horizonte – com as plotagens da identidade visual daquela edição, que misturavam cenas de Alma no Olho (1973), do Zózimo Bulbul, com as cores verde e laranja que ainda ilustram o catálogo que mais folheei na vida.
 Registro de minha participação em seminário do festival, que ilustra o texto Sobre a curadoria da mostra Cinema Negro – Capítulos de uma História Fragmentada. Foto: Layla Braz
Registro de minha participação em seminário do festival, que ilustra o texto Sobre a curadoria da mostra Cinema Negro – Capítulos de uma História Fragmentada. Foto: Layla Braz
Em paralelo a isso, não posso deixar de mencionar a minha experiência junto ao Fale de Cinema. O “coletivo democrático de cinema”, como definia nosso Instagram, foi a grande escola que não só me apresentou a diversas cinematografias que eu pouco conhecia, como colaborou para o exercício da crítica e da argumentação junto a pessoas que efetivamente discordavam em preferências e opiniões. Marco Melo, então estudante da Faculdade de Letras da UFMG, começou o Fale (coletivo) quando a Fale (faculdade) estava ocupada, em meio aos protestos contra a PEC do Teto de Gastos. Então, entre uma e outra reunião de mobilização política ou manifestação mais direta, também sentávamos para assistir filmes e conversar sobre cinema.
Um projeto, diversas críticas e coberturas, uma mostra e 40 episódios de podcasts depois, mantenho o agradecimento constante a Marco, Madeixa Persequini, Rafael Assunção, Laura Batitucci, Camila Felix e Joana Saar, entre outros e outras, por terem me feito companhia num processo contínuo de descobertas e afetações.
Voltemos, então, a 2018. Pois, para apresentar um pouco mais dessa trajetória crítica é necessário falar, ainda que brevemente, do Projeto Enquadro, iniciativa que me colocou próximo ao circuito que estava produzindo e pensando o cinema negro em Belo Horizonte, em específico, e na região Sudeste, de forma um pouco mais ampliada.
O projeto foi o trabalho de conclusão de curso meu e de Amanda Lira, que resultou em nove matérias publicadas no portal Alma Preta que investigavam a produção, o fomento e a circulação desse cinema negro mineiro em emergência. Produzi-lo foi a melhor oportunidade para conhecer esses cineastas, estabelecer uma relação com essas pessoas (institucional, num primeiro momento, de parceria e amizade, hoje) e conquistar alguns importantes espaços de reconhecimento. Por meio do Enquadro, também fizemos nossa primeira curadoria. A mostra Cinema Negro: Re-costuras e Afetos propunha dois caminhos de investigação para pensar o cinema negro brasileiro, valorizando, de um lado, o gesto de retomar histórias para recontá-las a partir de outras perspectivas e, de outro, uma certa potência emancipatória ligada ao ato do amor e do cuidado negros.
 Primeira sessão da mostra Cinema Negro: Re-costuras e Afetos, realizada em novembro de 2019. Foto: Júlia Duarte / Galpão Cine Horto
Primeira sessão da mostra Cinema Negro: Re-costuras e Afetos, realizada em novembro de 2019. Foto: Júlia Duarte / Galpão Cine Horto
Ainda que essas ideias não me mobilizem mais como já mobilizaram anteriormente, sinto que elas foram importantes em dado momento para construir uma consistência em torno da ideia que defendia de cinema negro brasileiro – nem que seja para que eu pudesse descontruí-la e remontá-la depois. Ginga e movimento, lembra? Hoje, por exemplo, vejo mais problemas do que acertos numa conceituação rasa de um certo cinema de cura. É a mesma discussão sobre ancestralidade que coloco lá em cima. Esse cinema cura o que, no fim das contas? O mundo do racismo? A gente? As instituições? Por mais que os filmes tenham uma função que até ouso denominar de “terapêutica”, já não coloco na conta deles essa responsabilidade mais não. Entretanto, sigo animado para que mais e diversos filmes continuem surgindo, seja pela via do amor, seja pela via da raiva. O ódio também movimenta as coisas.
Divaguei, pois talvez tenha chegado no presente momento. Sou jovem, né. Mas traço agora um passo, talvez, rumo à complexificação. Após ter passado por alguns espaços de curadoria – cito aqui a LONA - Cinemas e Territórios, o Cinecipó e a mostra América Negra, do Instituto Nicho54, como importantes espaços de troca e aprendizado – e de crítica, principalmente representado pelo Coletivo Zanza, que hoje integro, engatei em processos que intensificaram e profissionalizaram a minha relação com o cinema. O produtor Jacson Dias e a crítica Lorenna Rocha foram (e são) fundamentais para esse momento. Com ele, fundamos o Cineclube Mocambo, iniciativa criada para reunir e exibir cinematografias negras produzidos no Brasil, em África e nos demais países ao redor do globo, num esforço de internacionalização das discussões e referências. Com ela, criamos a INDETERMINAÇÕES, essa plataforma que abriga este texto, e que busca aprofundar um olhar para dentro, para o cinema brasileiro e seus agentes contemporâneos e históricos, a fim de lançar questões a partir dessa coletividade.
Não quero, aqui, me aprofundar muito nesses projetos. Eles são iniciativas em andamento cujos encontros ainda reverberam das formas mais inusitadas e maravilhosas possíveis. Prefiro, pois, retomar a ideia que lanço no início, o debate em torno do movimento e da ginga, para falar de algumas coisas que me limitam, instigam e inspiram.
*
“Talvez o maior exercício de criatividade seja o de criar estratégias para não dispersarmo-nos”. Essa frase, dita por Grace Passô durante uma mesa da edição 2021 da Mostra de Cinema de Tiradentes, ainda ressoa bastante por aqui. Pois a crítica, pra mim, nunca foi um exercício fácil. A falta de tempo para me dedicar à escrita e ao estudo, a não ou baixa remuneração que inviabiliza um trabalho contínuo na área… Todos esses são pontos que determinam uma produção baixa e pouco periódica.
Minhas ideias críticas, portanto, nem sempre estarão nos textos propriamente ditos. Muitas vezes, por conta dessa dificuldade em expor para o papel, privilegio justamente as conversas, os encontros e as próprias curadorias como espaços de exercício e troca.
Hoje, aprendo mais com o cinema do que, provavelmente, com as demais referências “usuais” de estudo. É ele quem me ensina sobre movimento negro, por exemplo, e é ele quem me coloca diante de uma coletividade e diversidade discursiva absurda. “O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar”, Drummond já dizia. Com o cinema e o universo que o rodeia, sou constantemente lembrado dessa imensidão.
“É preciso continuamente perturbar o repouso do sentido”, recomendou Ricardo Aleixo em encontro da Mostra Lâmina, realizada entre maio e junho de 2021. E como o corpo é vivo e o gesto está sempre se atualizando, tento, por meio desses espaços mencionados, registrar uma crítica que, com ginga e malícia, colabore para a atualização das ideias, debates e discursos.
Leia outros textos