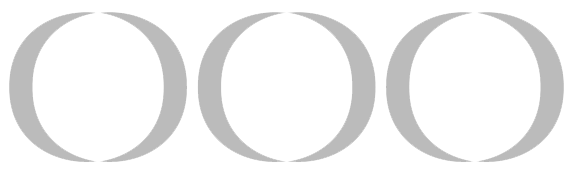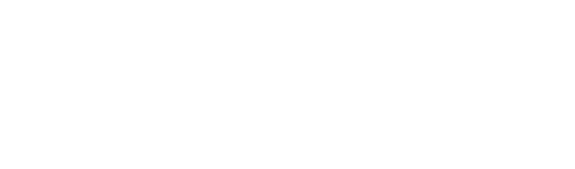Breve relato de inadequação
por Felipe André Silva | Fri Jun 10 2022 17:35:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Passei alguns meses tateando em busca de um ângulo ou abordagem que melhor alinhavasse o que pretendia fazer com esse texto. Entre um punhado de opções mais ou menos objetivas, me peguei pensando criticamente sobre as minhas próprias escolhas naquilo que chamo de “trajetória crítica”. Neste caminho de interesse pelo universo da arte, quase sempre me percebi avesso ao que hoje está perfeitamente descrito como ‘debate identitário’, reação plausível quando se vive intensamente -e não apenas teoriza sobre- tantas das questões que essa retomada de espaço propõe. Talvez, para tentar entender a cronologia dessa ressalva, traço aqui um breve trajeto biográfico, que se confunde com a compreensão, interesse e aversão por estes debates.
Ao remontar ao passado para investigar esse trajeto, me surpreendeu notar que, salvo esteja ocorrendo um lapso de memória, o desejo de escrever sobre cinema se tornou uma realidade assim que descobri que, além de ser um gênero literário real, ele era perfeitamente acessível a qualquer um. Não vivi num ambiente familiar ou doméstico particularmente afeito à apreciação artística, mas posso pontuar fatores relevantes, como uma exposição muito prematura à pluralidade de gêneros musicais e literários para atiçar a curiosidade por outras formas de contar uma história, o que naturalmente desembocou numa infância e juventude regadas a visitas semanais, ou ainda mais frequentes, às locadoras do bairro.
A cristalização dessa curiosidade, primeiro pelo cinema como forma de arte e logo em seguida pela sua discussão, se deu durante o lançamento nacional de Kill Bill Vol. 1 (2003), o agora potencialmente clássico dirigido por Quentin Tarantino, a quem na época eu ainda desconhecia. A exuberância das imagens no trailer, que vi por acaso em spots na finada MTV Brasil, me levou ao inédito desejo de entender o que havia por trás daquilo. Como era feito um filme? Quem decidia história, cores, elenco, música? Acredito que a resposta veio, ainda cifrada, através de uma crítica escrita por Érico Borgo no site Omelete. Não necessariamente conhecido (ou pelo menos não nos idos de 2004) como um espaço afeito a uma crítica mais aprofundada, é possível que o primeiro contato com esse tipo de resenha mais comercial, apontada para um público majoritariamente consumidor e não pesquisador, tenha moldado algo que levei bastante tempo para repensar, que foi a emulação dessa abordagem de crítica como publicidade. Mas talvez voltemos a este ponto mais a frente. Gostaria de adicionar aqui um parêntese muito pessoal, mas que parece inextricável de nossa discussão sobre essa jornada.
 Frame de Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003)
A propósito da exposição desse conjunto de experiências idílicas de encontros fortuitos com a arte, francamente associadas a uma classe média mais abastada, me vejo obrigado a pontuar que nasci numa família que flutuava abaixo da linha da pobreza, e, somente quando minha mãe, empregada doméstica, me levou para viver com ela, na casa onde trabalhava, esta sim de classe média, que eu me vi exposto a outro tipo de experiência de mundo, e, afinal, é sobre isso que falamos aqui. Novamente, pontuo este dado (e não pretendo necessariamente tornar a investigá-lo) para que se entenda essa trajetória com a complexidade que cabe a ela, que, por tantas vezes, percebi ser negada a partir de uma primeira leitura feita da minha pessoa, sobretudo como pessoa preta. Sim, trilhei um caminho economicamente confortável, se assim podemos chamar, enquanto descobria novas fruições, mas o preço pago por habitar um mundo não necessariamente meu foi bastante alto. A primeira incursão "pública" no universo da crítica aconteceu pouco tempo depois desse primeiro disparo, quando um professor do colégio onde estudava decidiu iniciar um jornal produzido pelos alunos. Já com um notório interesse por cinema, fui escalado como crítico e redigi algumas poucas linhas, muito elogiosas, a Crash (Paul Haggis, 2004), então eminente vencedor do Oscar. Fica aí a nota de que, felizmente, a evolução é uma constante.
É interessante pontuar algumas coisas sobre a cinefilia e a investigação do debate cinematográfico que desabrocharam no início dos anos 2000, e, em especial, o fato de que estávamos ali num período particular e fatalmente transicional. Começavam a sair de cena a dependência das salas de cinemas e dos discos de dvd e, em especial para o nicho cinéfilo, um outro leque de pesquisas se tornava possível com a cada vez mais intensa difusão do compartilhamento P2P e dos torrents. Se uma geração anterior tinha seus debates por vezes limitados pela simples falta de acesso a certas filmografias, essa realidade começava a mudar com a popularização de espaços como o MakingOff e o Karagarga, fóruns essenciais na formação cinéfila da época e que seguem firmes até, mas talvez sem o mesmo alcance, dado o fato de estarmos já em outro momento, em outra geração, que se comunica com seus processos cinéfilos de outra forma. Se ainda hoje é comum vermos críticos de cinema com maior alcance, como a veterana e queridinha da internet Isabela Boscov, tateando com cuidado ao comentar sobre um filme que ainda não teve lançamento oficial no Brasil, mas que “magicamente” tantas pessoas já conferiram, a internet dos anos 2000 simplesmente não lidava ou não compreendia isso como uma problemática real, pois ainda reinava a experiência da sala.
Portanto, é possível dizer que a minha geração, talvez com mais intensidade do que as anteriores, vivia um descompasso de certa forma bastante fortuito entre o repertório e a discussão que os críticos midiáticos da época propunham e aquilo que passava a ser nosso interesse. Não significa dizer que uma pesquisa ativa não fosse importante para gerações anteriores, mas é fato que essa liberação de uma curadoria mercadológica conferia outro tipo de rumo para a cinefilia. Acho importante também colocar uma vírgula nesta afirmação, porque com o passar dos anos comecei a entender as complexidades envolvidas nessa liberdade irrestrita de pesquisa. Me parece que quanto mais se abrem as possibilidades de descobrir filmografias, mais acomodados se tornam os potenciais pesquisadores, já que a ciência de ter tudo a mão atrasa o impulso de ir atrás. É o efeito Netflix.
Voltando à cronologia, talvez um dos efeitos mais imediatos e definitivos dessa abertura tecnológica tenha sido a profusão de cineclubes que aconteceu no período. Não consigo pensar em eventos mais definitivos para a construção da minha sensibilidade cinematográfica e crítica do que acompanhar as discussões que aconteciam todo sábado à tarde no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, dentro do Cineclube Dissenso. Hoje saudoso e justamente tratado como fundamental para educação cinéfila de uma geração, o Dissenso tinha o luxuoso poder de usar uma sala de cinema bastante bem equipada que, justiça seja feita, já exibia seu lote de bons filmes, para promover debates em torno de cineastas como Joseph Losey, Hiroshi Teshigahara, Béla Tarr, Bruce LaBruce, Su Friedrich, e tantos outros incontáveis nomes que, apesar da imponência, não existiam no circuito comercial e, acima disso, promover um debate sobre os pormenores das obras. Mas a irreverência tenha sido a herança fundamental do Dissenso, e um ponto de virada muito importante na minha relação com o cinema e com a escrita.
Frame de Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003)
A propósito da exposição desse conjunto de experiências idílicas de encontros fortuitos com a arte, francamente associadas a uma classe média mais abastada, me vejo obrigado a pontuar que nasci numa família que flutuava abaixo da linha da pobreza, e, somente quando minha mãe, empregada doméstica, me levou para viver com ela, na casa onde trabalhava, esta sim de classe média, que eu me vi exposto a outro tipo de experiência de mundo, e, afinal, é sobre isso que falamos aqui. Novamente, pontuo este dado (e não pretendo necessariamente tornar a investigá-lo) para que se entenda essa trajetória com a complexidade que cabe a ela, que, por tantas vezes, percebi ser negada a partir de uma primeira leitura feita da minha pessoa, sobretudo como pessoa preta. Sim, trilhei um caminho economicamente confortável, se assim podemos chamar, enquanto descobria novas fruições, mas o preço pago por habitar um mundo não necessariamente meu foi bastante alto. A primeira incursão "pública" no universo da crítica aconteceu pouco tempo depois desse primeiro disparo, quando um professor do colégio onde estudava decidiu iniciar um jornal produzido pelos alunos. Já com um notório interesse por cinema, fui escalado como crítico e redigi algumas poucas linhas, muito elogiosas, a Crash (Paul Haggis, 2004), então eminente vencedor do Oscar. Fica aí a nota de que, felizmente, a evolução é uma constante.
É interessante pontuar algumas coisas sobre a cinefilia e a investigação do debate cinematográfico que desabrocharam no início dos anos 2000, e, em especial, o fato de que estávamos ali num período particular e fatalmente transicional. Começavam a sair de cena a dependência das salas de cinemas e dos discos de dvd e, em especial para o nicho cinéfilo, um outro leque de pesquisas se tornava possível com a cada vez mais intensa difusão do compartilhamento P2P e dos torrents. Se uma geração anterior tinha seus debates por vezes limitados pela simples falta de acesso a certas filmografias, essa realidade começava a mudar com a popularização de espaços como o MakingOff e o Karagarga, fóruns essenciais na formação cinéfila da época e que seguem firmes até, mas talvez sem o mesmo alcance, dado o fato de estarmos já em outro momento, em outra geração, que se comunica com seus processos cinéfilos de outra forma. Se ainda hoje é comum vermos críticos de cinema com maior alcance, como a veterana e queridinha da internet Isabela Boscov, tateando com cuidado ao comentar sobre um filme que ainda não teve lançamento oficial no Brasil, mas que “magicamente” tantas pessoas já conferiram, a internet dos anos 2000 simplesmente não lidava ou não compreendia isso como uma problemática real, pois ainda reinava a experiência da sala.
Portanto, é possível dizer que a minha geração, talvez com mais intensidade do que as anteriores, vivia um descompasso de certa forma bastante fortuito entre o repertório e a discussão que os críticos midiáticos da época propunham e aquilo que passava a ser nosso interesse. Não significa dizer que uma pesquisa ativa não fosse importante para gerações anteriores, mas é fato que essa liberação de uma curadoria mercadológica conferia outro tipo de rumo para a cinefilia. Acho importante também colocar uma vírgula nesta afirmação, porque com o passar dos anos comecei a entender as complexidades envolvidas nessa liberdade irrestrita de pesquisa. Me parece que quanto mais se abrem as possibilidades de descobrir filmografias, mais acomodados se tornam os potenciais pesquisadores, já que a ciência de ter tudo a mão atrasa o impulso de ir atrás. É o efeito Netflix.
Voltando à cronologia, talvez um dos efeitos mais imediatos e definitivos dessa abertura tecnológica tenha sido a profusão de cineclubes que aconteceu no período. Não consigo pensar em eventos mais definitivos para a construção da minha sensibilidade cinematográfica e crítica do que acompanhar as discussões que aconteciam todo sábado à tarde no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, dentro do Cineclube Dissenso. Hoje saudoso e justamente tratado como fundamental para educação cinéfila de uma geração, o Dissenso tinha o luxuoso poder de usar uma sala de cinema bastante bem equipada que, justiça seja feita, já exibia seu lote de bons filmes, para promover debates em torno de cineastas como Joseph Losey, Hiroshi Teshigahara, Béla Tarr, Bruce LaBruce, Su Friedrich, e tantos outros incontáveis nomes que, apesar da imponência, não existiam no circuito comercial e, acima disso, promover um debate sobre os pormenores das obras. Mas a irreverência tenha sido a herança fundamental do Dissenso, e um ponto de virada muito importante na minha relação com o cinema e com a escrita.
 Frame de Cinderela Baiana (Conrado Sanchez, 1998)
Ao debater com franqueza e curiosidade filmes como Cinderela Baiana (Conrado Sanchez, 1998) e Ai que Vida! (Cícero Filho, 2008), o cineclube fazia o grande serviço de tirar a discussão cinematográfica de um ambiente sisudo e necessariamente acadêmico, o que, para alguém que ainda não havia e nem havia de passar pela faculdade, soa como a remoção de um grande fardo das costas. Neste mesmo sentido, ainda que de maneira um tanto diversa, foi interessante deixar de ler uma abordagem cartesiana e solene como a de Pablo Villaça, para citar um exemplo de um nome que me atraía em inícios de jornada, e descobrir, por exemplo, o encanto que existia no texto ensaístico e desassombrado de Andrea Ormond, para mim talvez a melhor crítica de cinema em atividade nos nossos tempos. Andrea fazia desde sempre o que, por falta de coragem e bagagem, levei muito tempo para aceitar como meu próprio estilo: ela trocava o jargão cinematográfico e o despejo de referências pela conversa franca sobre a sua experiência com o filme projetado. É de experiência de mundo que estamos falando, afinal. E talvez seja esse meu desejo ao pensar em falar sobre cinema, ou arte de maneira geral. Ainda que no atual momento esteja afastado do exercício constante da crítica, já vivo com tranquilidade a compreensão de que minha falta de aparato teórico, tanto por desleixo em pesquisar quanto pela falta de um processo acadêmico, não necessariamente informam a qualidade das minhas ideias sobre cinema. Para muitas pessoas, uma conversa franca e coerente sobre o que o filme causa vale mais do que um desfile de referências (deixando claro que estas duas abordagens não são excludentes entre si).
Desfilei todo este panorama para desembocar aqui numa questão que vem me acompanhado com mais firmeza desde que minha carreira como realizador começou a tomar algum corpo, e que talvez dialogue tanto melhor com os recortes dessa publicação. Penso na cineasta Mati Diop que, ao receber um prêmio em Cannes, descobriu que era a primeira mulher negra a ser laureada no evento. A resposta de Diop ao fato continha surpresa e uma provocação bastante interessante, com a realizadora falando que “não havia feito nada específico para isso. Apenas fiz o filme que queria”. E creio que aí exista um interessante ponto de confluência com a minha história que, repito, é só minha. Não me vejo descolado ou imunes às perversidades do racismo e, no entanto, como posso falar de uma experiência de fazer crítico a partir de um lugar de “crítico negro”, se a cor da minha pele jamais informou de forma direta meu processo de formação? É claro que aqui precisaríamos falar de benefícios de classe, e de crescer emulando uma experiência de classe média, por mais que ela fosse quase ficcionalizada e apenas parcialmente possível para mim. Mas também é fato de que, durante esse período incipiente, não experimentei empecilhos nas minhas pesquisas, nos cinemas frequentados, nas verbas para comprar livros e filmes, por ser um jovem preto. Falo apenas por mim, e não me descolo da realidade por um segundo. Compreendo sem ressalvas que como eu existem poucos, mas volto à questão da realização para pensar um pouco os mecanismos que levam a isso.
Desde que comecei a fazer filmes sempre me foi apontado que eu deveria me beneficiar da minha etnia e da minha atual condição de classe, que voltou a ser baixa, para acessar vias de fomento, o que seria apenas o uso de uma ferramenta que já existe. No entanto, ao tentar acessar esses espaços usando a pecha de ‘cineasta preto, favelado, lgbt’, o obstáculo que surgia, e surge, com mais frequência, é o fato dos filmes não dizerem o que se espera deles. Na crítica isso talvez não seja tão frequente, mas ocorre com uma perversidade diferente. Basta pensarmos na situação vivida recentemente pelo crítico (preto e pesquisador de literatura preta) Luiz Maurício Azevedo ao tecer críticas ferrenhas ao livro do escritor preto Stefano Volp. A primeira reação dos fãs do autor, que expressou seu desconforto com a crítica, foi a de atacar Luiz Maurício como um homem branco e racista. Me parece uma leitura eficiente e sintomática do que talvez tenha se tornado a feitura de arte e seus comentários subsequentes: um grande cercadinho onde se bate palmas para as minorias dançarem, mas curiosamente elas seguem não podendo escolher as próprias músicas. Acho que esse seria um bom final para esse texto: o gosto amargo de, seja por qual via for, as barreiras ainda nos encontram.
Frame de Cinderela Baiana (Conrado Sanchez, 1998)
Ao debater com franqueza e curiosidade filmes como Cinderela Baiana (Conrado Sanchez, 1998) e Ai que Vida! (Cícero Filho, 2008), o cineclube fazia o grande serviço de tirar a discussão cinematográfica de um ambiente sisudo e necessariamente acadêmico, o que, para alguém que ainda não havia e nem havia de passar pela faculdade, soa como a remoção de um grande fardo das costas. Neste mesmo sentido, ainda que de maneira um tanto diversa, foi interessante deixar de ler uma abordagem cartesiana e solene como a de Pablo Villaça, para citar um exemplo de um nome que me atraía em inícios de jornada, e descobrir, por exemplo, o encanto que existia no texto ensaístico e desassombrado de Andrea Ormond, para mim talvez a melhor crítica de cinema em atividade nos nossos tempos. Andrea fazia desde sempre o que, por falta de coragem e bagagem, levei muito tempo para aceitar como meu próprio estilo: ela trocava o jargão cinematográfico e o despejo de referências pela conversa franca sobre a sua experiência com o filme projetado. É de experiência de mundo que estamos falando, afinal. E talvez seja esse meu desejo ao pensar em falar sobre cinema, ou arte de maneira geral. Ainda que no atual momento esteja afastado do exercício constante da crítica, já vivo com tranquilidade a compreensão de que minha falta de aparato teórico, tanto por desleixo em pesquisar quanto pela falta de um processo acadêmico, não necessariamente informam a qualidade das minhas ideias sobre cinema. Para muitas pessoas, uma conversa franca e coerente sobre o que o filme causa vale mais do que um desfile de referências (deixando claro que estas duas abordagens não são excludentes entre si).
Desfilei todo este panorama para desembocar aqui numa questão que vem me acompanhado com mais firmeza desde que minha carreira como realizador começou a tomar algum corpo, e que talvez dialogue tanto melhor com os recortes dessa publicação. Penso na cineasta Mati Diop que, ao receber um prêmio em Cannes, descobriu que era a primeira mulher negra a ser laureada no evento. A resposta de Diop ao fato continha surpresa e uma provocação bastante interessante, com a realizadora falando que “não havia feito nada específico para isso. Apenas fiz o filme que queria”. E creio que aí exista um interessante ponto de confluência com a minha história que, repito, é só minha. Não me vejo descolado ou imunes às perversidades do racismo e, no entanto, como posso falar de uma experiência de fazer crítico a partir de um lugar de “crítico negro”, se a cor da minha pele jamais informou de forma direta meu processo de formação? É claro que aqui precisaríamos falar de benefícios de classe, e de crescer emulando uma experiência de classe média, por mais que ela fosse quase ficcionalizada e apenas parcialmente possível para mim. Mas também é fato de que, durante esse período incipiente, não experimentei empecilhos nas minhas pesquisas, nos cinemas frequentados, nas verbas para comprar livros e filmes, por ser um jovem preto. Falo apenas por mim, e não me descolo da realidade por um segundo. Compreendo sem ressalvas que como eu existem poucos, mas volto à questão da realização para pensar um pouco os mecanismos que levam a isso.
Desde que comecei a fazer filmes sempre me foi apontado que eu deveria me beneficiar da minha etnia e da minha atual condição de classe, que voltou a ser baixa, para acessar vias de fomento, o que seria apenas o uso de uma ferramenta que já existe. No entanto, ao tentar acessar esses espaços usando a pecha de ‘cineasta preto, favelado, lgbt’, o obstáculo que surgia, e surge, com mais frequência, é o fato dos filmes não dizerem o que se espera deles. Na crítica isso talvez não seja tão frequente, mas ocorre com uma perversidade diferente. Basta pensarmos na situação vivida recentemente pelo crítico (preto e pesquisador de literatura preta) Luiz Maurício Azevedo ao tecer críticas ferrenhas ao livro do escritor preto Stefano Volp. A primeira reação dos fãs do autor, que expressou seu desconforto com a crítica, foi a de atacar Luiz Maurício como um homem branco e racista. Me parece uma leitura eficiente e sintomática do que talvez tenha se tornado a feitura de arte e seus comentários subsequentes: um grande cercadinho onde se bate palmas para as minorias dançarem, mas curiosamente elas seguem não podendo escolher as próprias músicas. Acho que esse seria um bom final para esse texto: o gosto amargo de, seja por qual via for, as barreiras ainda nos encontram.